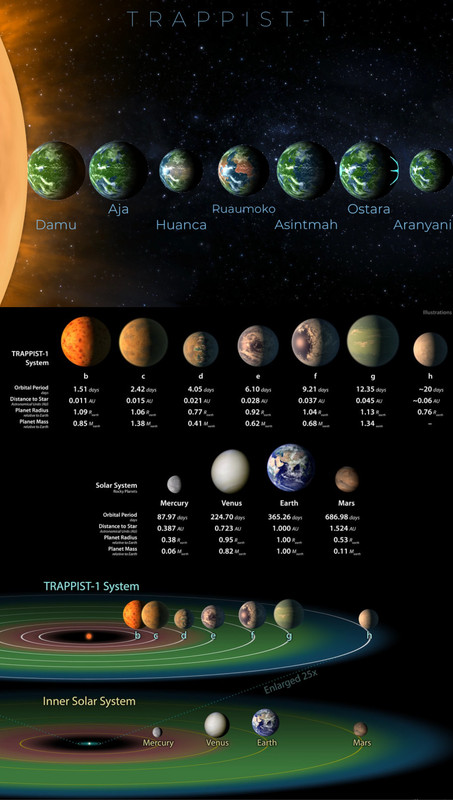Vamos falar de um tema que todo mundo vive na pele, mas raramente nomeia com precisão: como as emoções de uma pessoa mudam por causa das outras. Você conta uma notícia ruim, alguém do seu lado fica tenso, um terceiro tenta “levantar o astral” com uma piada — e, de repente, o clima de todo mundo já não é mais o mesmo. Isso tem nome, tem lógica e tem caminhos previsíveis. A pergunta que guia este texto é simples: o que acontece, emocionalmente, quando não atuamos “direto no alvo”, e sim por meio de outras pessoas?
Vou apresentar os conceitos centrais, mostrar onde eles aparecem na vida real e por que valem para famílias, escolas, empresas, esportes e até política. E, aos poucos, reforçar um ponto-chave: nem sempre o jeito mais eficaz de mexer com a emoção de alguém é falar com essa pessoa, às vezes, a via mais curta passa por um terceiro.
O que é regulação emocional interpessoal?
Comecemos pelo básico. Regulação emocional (ou emotion regulation) é o conjunto de processos pelos quais ajustamos o que sentimos, quando sentimos e como expressamos o que sentimos. Quando faço isso comigo mesmo, respiro fundo, mudo o foco, conto até dez, estou na esfera intrapessoal. Quando tento alterar o estado emocional de outra pessoa — confortando, animando, provocando, esfriando uma discussão, entro na regulação emocional interpessoal (REI).
Dois termos ajudam a organizar essa cena: agente e alvo. O agente é quem inicia uma ação para mudar a emoção de alguém, o alvo é quem tem a emoção mudada. Parece óbvio, certo? Só que a vida social raramente é só uma via de mão dupla. Em boa parte das situações, existe um terceiro na jogada, alguém que não é o alvo final, mas que pode ser tocado primeiro para, então, influenciar o alvo. É aqui que a conversa ganha profundidade.
Tradicionalmente, discute-se REI pensando no agente atuando direto no alvo. Vou consolar meu amigo? Eu falo com ele, uso meus recursos e pronto. Chamemos isso de self-based: eu, agente, uso a mim mesmo como meio para regular o outro.
Agora, considere duas variações que ampliam a lente e fazem mais justiça à vida real:
Other-based direta: o agente muda a emoção do terceiro, e esse terceiro, por sua vez, muda a emoção do alvo. Pense no técnico de um time que, percebendo a equipe abatida, primeiro trabalha o humor do capitão; o capitão, mais confiante, “contamina” positivamente o vestiário.
Other-based indireta: o agente muda a emoção do terceiro, e só o fato de o alvo testemunhar essa mudança já altera o seu estado. Imagine a aluna que, vendo a professora nervosa, decide alegrar um colega ao lado; a professora observa a cena, relaxa, e o clima da turma melhora sem ninguém ter “falado com a professora”.
Repare na lógica: não se trata apenas de “quem é o alvo”, mas de qual caminho emocional percorremos. A mesma intenção — melhorar ou piorar um estado afetivo — pode seguir rotas diferentes. E rotas diferentes exigem habilidades, timing e ética diferentes.
Outro conceito simples, que evita confusão, é o de valência emocional (se uma emoção é agradável/positiva ou desagradável/negativa). Nem sempre a valência que induzimos no terceiro é a mesma que desejamos no alvo. Um exemplo cotidiano: alguém compra um presente “generoso” para o filho, não para alegrá-lo, mas para irritar o ex-parceiro — que se sente ultrapassado ou sabotado. A valência sobe no terceiro (criança feliz), cai no alvo (ex-parceiro irritado). O oposto também ocorre: pressionar uma equipe pode, por vezes, agradar uma chefia que valoriza “rigor”, ainda que colegas fiquem tensos. Essas assimetrias mostram como as redes emocionais comportam trajetórias não lineares.
Quando alguém tenta regular a emoção de outra pessoa, há sempre um motivo. Três rótulos didáticos ajudam:
Hedônico: o objetivo é mexer com o sentir pelo sentir — fazer alguém se sentir bem, ou mal, independentemente de metas posteriores.
Instrumental: o foco é um resultado prático que depende de um estado emocional; por exemplo, animar a equipe para melhorar o desempenho, ou constranger um colega para que ele recue de uma decisão.
Altruísta: o alvo se beneficia, mesmo que o processo seja desconfortável no curto prazo; um pai pode induzir preocupação no outro cuidador por acreditar que isso protegerá o filho.
Perceba a sutileza: piorar a emoção de alguém não é automaticamente “maligno” se o foco for proteger no longo prazo, e melhorar a emoção de alguém pode ser usado de modo insincero para tirar vantagem. A motivação dá cor ética à estratégia.
A linha entre regulação emocional interpessoal e manipulação pode parecer tênue, mas há diferenças claras quando você olha com lupa.
Objeto final: na REI, o objetivo declarado da ação é mudar a experiência emocional do outro; na manipulação, a emoção é mais um meio para mudar comportamento em benefício do manipulador.
Valência permitida: a REI inclui melhora e piora do afeto; abordagens de manipulação tendem a explorar sobretudo piora para obter controle.
Repertório: a REI admite estratégias adaptativas, como escuta ativa, validação e reforço de vínculos; manipulação privilegia táticas de pressão, culpa e distorção.
Arquitetura social: a REI descreve com naturalidade interações triádicas (agente–terceiro–alvo); classificações clássicas de manipulação focam em díades.
Intencionalidade: a REI pode ser sincera (cooperativa ou altruísta); manipulação, por definição, carrega intenção insincera e conflito de interesses.
Isso não quer dizer que não haja sobreposição. Se o agente quer que o alvo se sinta culpado para obedecer, e usa um terceiro como amplificador, a fronteira fica borrada. A diferença volta a emergir quando perguntamos: qual é a meta explícita — a emoção em si, ou um comportamento instrumentalizado por ela?
Quatro condições aparecem com frequência:
Barreiras contextuais: o agente não tem acesso direto ao alvo no ambiente onde a emoção se dá. Pais não entram na sala de aula; líderes nem sempre estão no chão de fábrica. A ponte vira o terceiro que está lá.
Distância psicológica: pouca intimidade, baixa confiança ou assimetria de poder. Falar diretamente pode soar invasivo ou arriscado; usar alguém de confiança do alvo aumenta a chance de adesão.
Cálculo de eficácia: mesmo que o contato direto seja possível, o agente avalia que o terceiro tem mais impacto. Em equipes, o capitão fala a língua do vestiário como ninguém; em famílias, irmãos se influenciam mais em certas idades do que os pais.
Difusão de responsabilidade: em contextos sensíveis, o agente não quer aparecer como a fonte da mudança emocional. Isso pode ser prudência política… ou covardia.
Note como esse quarto item tem cheiro de risco ético. Voltaremos a ele.
Atuar via terceiro exige representar dois estados emocionais ao mesmo tempo e antecipar como um afeta o outro. Isso convoca Teoria da Mente de segunda e terceira ordem (capacidade de atribuir estados mentais do tipo “eu acho que ele pensa que ela sente…”). Quem tem boa empatia cognitiva (tomar a perspectiva do outro) costuma se sair melhor nesse xadrez social.
Do ponto de vista do desenvolvimento, crianças pequenas já discriminam emoções básicas, mas só mais tarde consolidam raciocínios em cadeia sobre o que um sente por causa do que o outro sentiu. É nessa faixa que surge, por exemplo, a agressão relacional mediada por terceiros (espalhar um rumor via um amigo) — um uso sombrio da mesma habilidade de pensar em triângulos.
Traços de personalidade também modulam preferências estratégicas. Pessoas muito afáveis tendem a evitar confronto direto e podem preferir rotas indiretas quando há risco de conflito. Quem pontua alto em neuroticismo (maior sensibilidade à punição e à ameaça) pode recorrer à rota via terceiro para evitar embates frontais e diluir responsabilidade. Extrovertidos gostam de agir diretamente, recorrem a terceiros quando barreiras impedem o contato ou quando o terceiro é claramente o melhor canal. E há o lado escuro: níveis altos de maquiavelismo predispondo ao uso frio de terceiros para fins próprios.
Condições clínicas também importam. Dificuldades de leitura de emoções e de perspectiva social — como as observadas em alguns quadros do espectro autista — podem tornar mais custoso executar estratégias que dependem de monitorar dois estados emocionais em paralelo. Transtornos de personalidade com desconfiança crônica e viés de intenção hostil aumentam o risco de leituras distorcidas e táticas que machucam.
A REI raramente acontece em um único gesto. Em muitos episódios, o processo começa porque alguém compartilha sua emoção (uma espécie de “pedido de ajuda” afetivo). O agente tenta uma via direta; se percebe pouca tração, engata a via via-terceiro; às vezes combina as duas em polirregulação — várias estratégias, em sequência ou simultaneamente.
Aqui mora um risco. Usar muitas estratégias sem critério não melhora, por si só, a regulação. O agente pode se desgastar: monitorar estados emocionais múltiplos, atuar por canais indiretos, “carregar” o clima do grupo… tudo isso custa energia mental. É saudável aprender a encerrar o processo: parar quando a emoção-alvo foi atingida, quando os custos ultrapassam os ganhos, ou quando se percebe que a leitura do estado do outro estava errada. Parece simples, mas como medir sucesso? O jeito prático é combinar sinais observáveis (o alvo ficou mais calmo? retomou tarefas? mudou a expressão?) com checagens breves e não invasivas (“como você está se sentindo com isso agora?”), sem transformar a conversa num interrogatório.
Exemplos concretos (com dilemas reais):
Família
Um padrasto quer que a parceira, mãe da adolescente, sinta-se menos tensa com a rotina. Em vez de discutir diretamente com a parceira, ele investe em momentos positivos com a enteada — passeios, conversas, apoio nos estudos. A mãe observa a filha mais tranquila e, por tabela, relaxa. Motivo hedônico com benefício colateral? Talvez. Motivo instrumental visando harmonia doméstica? Também. E há casos em que alguém mexe no humor de um filho para ferir o ex-parceiro — uma triangulação que piora o afeto do alvo por vias indiretas. A mesma arquitetura, intenções opostas.
Escola
Um aluno percebe a tensão da professora antes da prova. Ele sabe que falar “calma, vai dar certo” pode soar condescendente. Então faz outra coisa: puxa um colega ansioso para um exercício rápido de respiração e concentração; a professora nota a melhoria de clima e desarma um pouco. Rota indireta via terceiro, motivação cooperativa.
Trabalho
Uma analista quer que o gerente aceite um plano. Há duas rotas: ela arma um “one-on-one” e tenta convencê-lo diretamente, ou decide primeiro engajar colegas-chave, melhorando a confiança e o humor deles, para que as reuniões subam de temperatura positiva. Há também o mau uso: um funcionário, ressentido, enfatiza injustiças numa roda, alimenta o mau humor do grupo e deixa a chefia sob pressão. E há o oportunismo político: animar o “funcionário do mês” em público para sinalizar ao diretor “olha como cuido do clima”, sem verdadeiro cuidado com o time.
Esportes
Treinadores experientes não falam só com a equipe. Trabalham o capitão, o goleiro, o assistente. Em dias decisivos, às vezes o discurso mais transformador não sai do técnico, e sim do atleta que o grupo reconhece como bússola emocional. Regular via terceiro é reconhecer quem tem licença social para mexer no clima.
Relações amorosas
No início de um namoro, gestos generosos na frente do parceiro — ajudar um estranho, elogiar discretamente um colega — influenciam como o parceiro se sente sobre você. O triângulo aqui é agente–terceiro–alvo, com efeito indireto e normalmente positivo. Já provocar ciúme ao ex exibindo fotos com amigos pode ser a versão tóxica dessa arquitetura.
Sociedade e política
Infelizmente, a engenharia emocional via terceiros também está nas estratégias mais duras. Violência contra civis para pressionar governos explora uma cadeia afetiva onde o terceiro sofre para que o alvo mude de curso. Não há justificativa ética aqui; há, sim, uma estrutura emocional reconhecível que ajuda a entender por que certos atos, mesmo condenáveis, são escolhidos.
Se você gosta de método, dá para modelar essas redes. Em laboratório, tarefas de delegação avaliam motivações: o agente não pode falar com o alvo, só com um terceiro; o desenho manipula recompensas para distinguir altruísmo de egoísmo. No dia a dia, amostragem ecológica (check-ins breves pelo celular ao longo do dia) revela quando escolhemos a rota via terceiro, com quais custos e com que taxa de sucesso.
Tudo isso parece técnico, mas tem um propósito simples: descrever, prever e, quando preciso, intervir. Se mapeio que a rota via terceiro é sempre usada para evitar conversa difícil, posso treinar habilidade de diálogo direto. Se percebo que um supervisor vive terceirizando “pressão” para líderes de célula, cabe conversar sobre responsabilidade.
Como navegar esses triângulos sem escorregar para manipulação, abuso de poder ou covardia? Um conjunto curto de perguntas funciona como checklist:
Qual é a emoção-alvo? Defina em termos concretos: menos ansiedade? mais esperança? menos raiva?
Por que essa emoção e por quê agora? Se a justificativa é instrumental, seja explícito consigo mesmo.
Quem é o terceiro certo — e por quê? Ele tem vínculo, confiança e autonomia para dizer não?
Quais são os riscos para cada ponta do triângulo? Pense em efeitos colaterais: ciúme, exclusão, culpa.
Como saberei que é hora de parar? Defina sinais de suficiência e sinais de desgaste.
Em ambientes de liderança, um princípio ajuda: não terceirize dor que você mesmo não está disposto a suportar. Se a estratégia envolve pressionar alguém por vias indiretas, pergunte-se se você assumiria essa pressão de forma honesta, cara a cara. Se a resposta for não, é provável que você esteja apenas evitando responsabilidade.
Lá no início, eu disse que nem sempre o atalho para mudar uma emoção é “falar com quem sente”. Vale reforçar, agora por outro ângulo: em redes humanas, a credibilidade e a proximidade não são uniformes. A voz do capitão vale mais do que a do técnico em certas horas; o sorriso entre irmãos abre portas que sermões de pais não abrem; um colega respeitado acalma a equipe de um jeito que e-mails da gerência jamais conseguem. Reconhecer isso não é abdicar do diálogo direto; é escolher o canal certo para o objetivo certo, com responsabilidade.
Aplicando no dia a dia:
Famílias: se a conversa direta está travada, combine com quem a pessoa confia um gesto de cuidado observável. O alvo precisa “ver” a emoção do terceiro para sentir o efeito indireto. Evite usar filhos como mensageiros de recados conflituosos; crianças não são suportes de adultice.
Sala de aula: que tal formar “pares de apoio” para os minutos antes de provas? Alunos ajudam colegas a regular a ativação; docentes ganham um clima de base mais estável para começar.
Empresas: identifique pivôs emocionais — pessoas que modulam o humor coletivo. Treine essas pessoas em escuta, validação e feedback. Desaconselhe delegar bronca; prefira clareza direta e respeito.
Esportes: cultive rituais que passam pelo terceiro certo (o capitão, a veterana, o assistente). Rituais são atalhos emocionais que não dependem de discursos longos.
Você com você: antes de “mexer” com o clima via terceiros, pergunte se o que te move é cuidado ou conveniência. A resposta muda tudo.
Supor leitura perfeita de emoções: vi um rosto neutro e chamei de “raiva”; atuei via terceiro e criei confusão. Vacina: perguntas curtas de checagem antes de agir.
Confundir cooperação com conluio: usar um terceiro para criar clima contra alguém corrói confiança. Vacina: mantenha intenção declarável — se você teria vergonha de revelar sua estratégia, ela provavelmente está errada.
Viciar na rota indireta: sempre que há desconforto, você ergue um triângulo. Vacina: pratique conversas difíceis com tempo e regra de segurança (sem respostas imediatas, com opção de pausa).
Ignorar custo do provedor: quem regula o outro paga pedágio emocional. Vacina: rodízio de responsabilidades, pausas, supervisão, espaços de descarga afetiva.
Viver em sociedade é viver em redes de influência emocional. A REI mostra que não se trata só de “ajudar ou atrapalhar” sentimentos do outro; trata-se de desenhar caminhos por onde essas mudanças viajam. Há a rota direta, com sua honestidade e fricção; há as rotas via terceiros, com sua potência e suas tentações. Dominar esse mapa dá poder, mas um poder que pede cuidado: intenções claras, respeito às pessoas que compõem o triângulo, prontidão para parar quando a linha entre cuidado e manipulação começa a sumir.
Se você reparar, hoje mesmo verá esses triângulos em ação: um colega que anima o grupo para, de tabela, aliviar a chefia; um irmão que consola outro para acalmar um pai; um treinador que escolhe a atleta certa para acender o espírito do time. Diante disso, faça duas perguntas simples: qual emoção está em jogo? por qual caminho ela está viajando? Só de responder honestamente, você já começou a regular melhor.
Referências:Niven, K., Totterdell, P., & Holman, D. (2009). A classification of controlled interpersonal affect regulation strategies. — Uma classificação de estratégias controladas de regulação interpessoal do afeto: propõe uma taxonomia de como as pessoas tentam mudar as emoções de outras (por exemplo, consolar, animar, provocar), diferenciando intenções, táticas e contextos, e discutindo efeitos sobre quem regula e sobre o alvo. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19653772/
Niven, K. (2017). The four key characteristics of interpersonal emotion regulation. — As quatro características-chave da regulação emocional interpessoal: sintetiza quatro propriedades centrais (agência, alvo, intenção e estratégia) para organizar pesquisas sobre como influenciamos emoções alheias e como medir esse processo com mais precisão. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28950980/
Nozaki, Y., & Mikolajczak, M. (2020). Extrinsic emotion regulation. — Regulação emocional extrínseca: revisão conceitual que define a regulação das emoções de outrem, mapeia benefícios e custos para quem regula e para o alvo, e discute quando e por que as pessoas escolhem intervenir no estado afetivo de outras. https://psycnet.apa.org/record/2020-03346-002
Netzer, L., Van Kleef, G. A., & Tamir, M. (2015). Interpersonal instrumental emotion regulation. — Regulação emocional instrumental interpessoal: examina situações em que mudamos emoções de outra pessoa para atingir metas práticas (por exemplo, desempenho, cooperação), mostrando quando isso é eficaz e os riscos éticos envolvidos. https://psycnet.apa.org/record/2015-10022-016
Overall, N. C., Fletcher, G. J., Simpson, J. A., & Sibley, C. G. (2009). Regulating partners in intimate relationships: The costs and benefits of different communication strategies. — Regular parceiros em relacionamentos íntimos: custos e benefícios de diferentes estratégias de comunicação: testa como táticas de “puxar para cima” ou “pressionar” o parceiro afetam satisfação, conflito e mudanças comportamentais ao longo do tempo. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19254108/
Campo, M., Sánchez, X., Ferrand, C., Rosnet, É., Friesen, A. P., & Lane, A. M. (2016). Interpersonal emotion regulation in team sport: Mechanisms and reasons to regulate teammates’ emotions examined. — Regulação emocional interpessoal no esporte de equipe: mecanismos e motivos para regular emoções de colegas: mapeia por que atletas tentam alterar o clima afetivo de companheiros (ex.: foco, confiança) e como fazem isso antes e durante competições. https://insight.cumbria.ac.uk/id/eprint/2050/1/Sanchez_InterpersonalEmotionRegulation.pdf
Cohen, N., & Arbel, R. (2020). On the benefits and costs of extrinsic emotion regulation to the provider: Toward a neurobehavioral model. — Sobre benefícios e custos da regulação emocional extrínseca para quem regula: rumo a um modelo neurocomportamental: propõe um quadro que integra recompensa/empatia e esforço/esgotamento, prevendo quando ajudar emocionalmente os outros energiza ou drena o provedor. https://psycnet.apa.org/record/2020-62451-002
Barclay, P. (2010). Altruism as a courtship display: Some effects of third-party generosity on audience perceptions. — Altruísmo como exibição de corte: efeitos da generosidade com terceiros na percepção da audiência: mostra que atos generosos diante de observadores elevam status e confiabilidade atribuídos ao agente, revelando uma via social de “sinalização” emocional. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19397845/
López-Pérez, B., Howells, L., & Gummerum, M. (2017). Cruel to be kind: Factors underlying altruistic efforts to worsen another person’s mood. — Cruel para ser gentil: fatores por trás de esforços altruístas para piorar o humor de alguém: demonstra quando pessoas, por cuidado, induzem sentimentos negativos de curto prazo (p. ex., culpa, preocupação) visando um bem maior para o alvo. https://pearl.plymouth.ac.uk/cgi/viewcontent.cgi?article=1779&context=psy-research
López-Pérez, B., Wilson, E., Dellaria, G., & Gummerum, M. (2016). Developmental differences in children’s interpersonal emotion regulation. — Diferenças desenvolvimentais na regulação emocional interpessoal de crianças: documenta como crianças de idades distintas tentam mudar emoções de colegas, e como compreensão emocional e linguagem preveem o repertório usado. https://psycnet.apa.org/record/2016-35457-001
Osterhaus, C., & Koerber, S. (2021). The Development of Advanced Theory of Mind in Middle Childhood: A longitudinal study from age 5 to 10 years. — O desenvolvimento da Teoria da Mente avançada na infância média: estudo longitudinal dos 5 aos 10 anos: traça a evolução de inferências de segunda ordem sobre crenças e intenções, base para raciocinar “o que A pensa que B sente”. https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.13627
Papera, M., Richards, A., Van Geert, P., & Valentini, C. (2019). Development of second-order theory of mind: Assessment of environmental influences using a dynamic system approach. — Desenvolvimento da Teoria da Mente de segunda ordem: avaliação de influências ambientais via abordagem de sistemas dinâmicos: avalia como fatores contextuais moldam, ao longo do tempo, a habilidade de pensar em estados mentais encadeados. https://psycnet.apa.org/record/2019-23210-007
Lee, J. Y. S., & Imuta, K. (2021). Lying and Theory of Mind: A Meta-Analysis. — Mentira e Teoria da Mente: uma meta-análise: sintetiza evidências de que avanços em Teoria da Mente estão ligados à capacidade de enganar e detectar enganos, indicando sofisticação social crescente. https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.13535
Pons, F., Lawson, J., Harris, P. L., & De Rosnay, M. (2003). Individual differences in children’s emotion understanding: Effects of age and language. — Diferenças individuais no entendimento de emoções em crianças: efeitos da idade e da linguagem: mostra que crescimento em vocabulário emocional e maturação cognitiva melhoram a leitura e explicação de estados afetivos. https://psycnet.apa.org/record/2003-99730-006
Archer, J., & Coyne, S. M. (2005). An integrated review of indirect, relational, and social aggression. — Uma revisão integrada de agressão indireta, relacional e social: consolida evidências de formas não físicas de agressão (rumores, exclusão), discutindo mecanismos, gênero e implicações sociais. https://journals.sagepub.com/doi/10.1207/s15327957pspr0903_2?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
Sutton, J., Smith, P. K., & Swettenham, J. (1999). Bullying and ‘Theory of Mind’: A critique of the ‘Social Skills Deficit’ view of Anti-Social behaviour. — Bullying e Teoria da Mente: crítica à visão de “déficit de habilidades sociais” do comportamento antissocial: argumenta que alguns agressores têm boa leitura mental e a usam para explorar vulnerabilidades de vítimas. https://psycnet.apa.org/record/1999-10556-007
Báez, S., Marengo, J., Pérez, A., Huepe, D., Font, F. G., Rial, V., Gonzalez-Gadea, M. L., Manes, F., & Ibáñez, A. (2014). Theory of mind and its relationship with executive functions and emotion recognition in borderline personality disorder. — Teoria da Mente e sua relação com funções executivas e reconhecimento emocional no transtorno de personalidade borderline: identifica padrões de dificuldade em inferir estados mentais ligados a déficits executivos e leitura afetiva. https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jnp.12046
Nemeth, N., Matrai, P., Hegyi, P., Czeh, B., Czopf, L., Hussain, A., … & Simon, M. (2018). Theory of mind disturbances in borderline personality disorder: A meta-analysis. — Perturbações de Teoria da Mente no transtorno de personalidade borderline: uma meta-análise: consolida evidências de prejuízos em compreender perspectiva alheia, com heterogeneidade por método e contexto. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178118302300
Livingston, L. A., Colvert, E., Bolton, P., & Happé, F. (2018). Good social skills despite poor theory of mind: Exploring compensation in autism spectrum disorder. — Boas habilidades sociais apesar de Teoria da Mente fraca: explorando compensação no espectro do autismo: sugere que algumas pessoas no espectro usam estratégias compensatórias para navegar interações mesmo com limitações de inferência mental. https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.12886
Leidner, R. (1999). Emotional labor in service work. — Trabalho emocional no setor de serviços: descreve como ocupações de atendimento demandam manejo sistemático de sentimentos/expressões, com consequências para bem-estar e controle organizacional. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000271629956100106
Lively, K. J. (2000). Reciprocal emotion management. — Gestão recíproca de emoções: explora como membros de equipes e supervisores regulam as emoções uns dos outros no trabalho, destacando trocas afetivas que sustentam coordenação e normas. https://psycnet.apa.org/record/2000-13742-002
Bedi, A. (2019). No Herd for Black Sheep: A Meta-Analytic Review of the Predictors and Outcomes of Workplace Ostracism. — Sem rebanho para a ovelha negra: meta-análise de preditores e desfechos do ostracismo no trabalho: aponta fatores que levam à exclusão social no ambiente laboral e os impactos sobre saúde, desempenho e rotatividade. https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apps.12238
Apostolou, M. (2013). Do as We Wish: Parental Tactics of Mate Choice Manipulation. — Faça como queremos: táticas parentais de manipulação da escolha de parceiros: investiga estratégias pelas quais pais tentam influenciar, direta ou indiretamente, as escolhas afetivas dos filhos. https://psycnet.apa.org/record/2014-02049-003
Baker, A. J. L. (2005). The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult Children: A Qualitative Research Study. — Efeitos de longo prazo da alienação parental em filhos adultos: estudo qualitativo: documenta impactos duradouros de práticas de alienação nas relações e saúde psicológica dos filhos quando adultos. https://psycnet.apa.org/record/2005-07652-002
Barber, B. K., & Buehler, C. (1996). Family cohesion and enmeshment: Different constructs, different effects. — Coesão familiar e enredamento: construtos diferentes, efeitos diferentes: diferencia vínculos saudáveis de padrões de “fusão” prejudicial, relacionando cada um a desfechos de ajuste. https://psycnet.apa.org/record/1997-41406-013
Bachand, C. R. (2017). Bullying in Sports: the definition depends on who you ask. — Bullying no esporte: a definição depende de quem responde: discute como atletas, técnicos e gestores divergem na definição de bullying esportivo e o que isso implica para prevenção e intervenção. https://thesportjournal.org/article/bullying-in-sports-the-definition-depends-on-who-you-ask/
Niven, K., Macdonald, I. A., & Holman, D. (2012). You spin me right round: Cross-Relationship Variability in interpersonal emotion regulation. — Você me gira por completo: variabilidade entre relações na regulação emocional interpessoal: mostra que as pessoas mudam seu jeito de regular emoções de outros conforme o tipo de relação (parceiro, amigo, colega), com efeitos distintos. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23060849/
Tamir, M. (2015). Why do people regulate their emotions? A taxonomy of motives in emotion regulation. — Por que as pessoas regulam suas emoções? Uma taxonomia de motivos: organiza motivos hedônicos, instrumentais e pró-sociais para regular emoções, lançando base para prever escolhas estratégicas. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1088868315586325
Austin, E., & O’Donnell, M. (2013). Development and preliminary validation of a scale to assess managing the emotions of others. — Desenvolvimento e validação preliminar de uma escala para avaliar o gerenciamento das emoções de outros: apresenta o MEOS, instrumento para medir diferenças individuais na propensão a regular emoções alheias por táticas variadas. https://www.pure.ed.ac.uk/ws/portalfiles/portal/14842070/Development_and_preliminary_validation_of_a_scale_to_assess_managing_the_emotions_of_others.pdf
Reeck, C., Ames, D. R., & Ochsner, K. N. (2016). The Social Regulation of Emotion: An Integrative, Cross-Disciplinary Model. — A regulação social da emoção: um modelo integrativo e transdisciplinar: propõe um arcabouço que conecta processos individuais e sociais de regulação, mapeando alvos, canais e resultados. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26564248/
Crick, N. R., & Grotpeter, J. K. (1995). Relational Aggression, Gender, and Social-Psychological Adjustment. — Agressão relacional, gênero e ajustamento psicossocial: introduz o conceito de agressão relacional e associa padrões de exclusão/rumores a indicadores de ajuste em meninos e meninas. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7789197/
Ganong, L. H., Coleman, M., Fine, M. A., & Martin, P. Y. (1999). Stepparents’ Affinity-Seeking and Affinity-Maintaining Strategies with Stepchildren. — Estratégias de busca e manutenção de afinidade de padrastos com enteados: descreve táticas que padrastos usam para construir vínculo e como o contexto familiar facilita ou dificulta esse processo. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/019251399020003001
Ganor, B. (2004). Terrorism as a strategy of psychological warfare. — Terrorismo como estratégia de guerra psicológica: discute como violência contra terceiros busca coagir alvos políticos por meio de impacto emocional na população. https://psycnet.apa.org/record/2005-04703-004