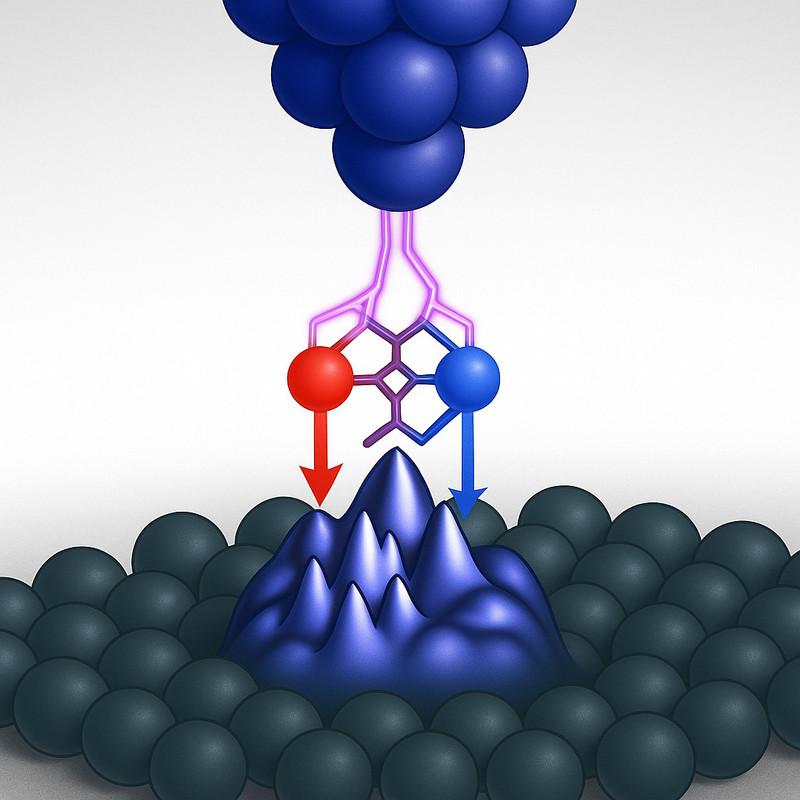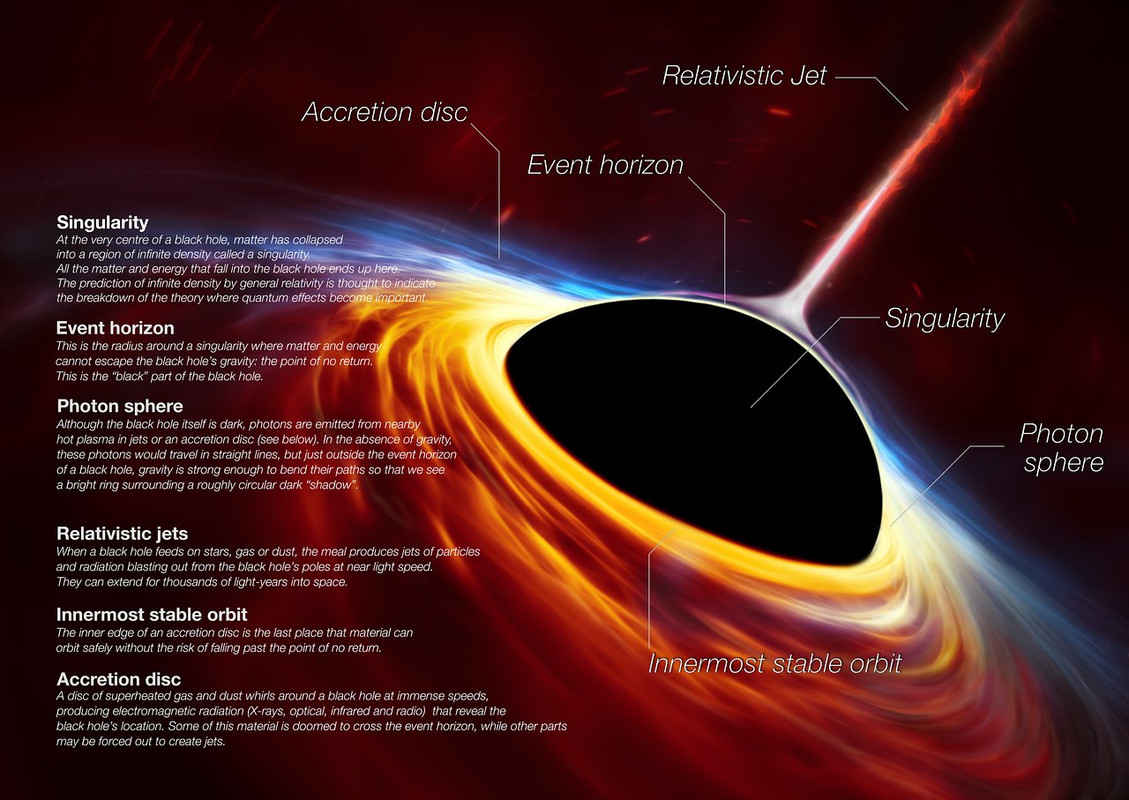Existem assuntos interessantes sobre como o cérebro se comporta, um dos assuntos que li: a maioria da atividade do cérebro acontece quando estamos em repouso. Em outras palavras, é quando estamos tranquilos. Sabe aquele momento em que você só está olhando para o teto, andando sem destino, ou apenas deixando os pensamentos vagarem? Pois é. É aí que o cérebro está mais ocupado — ou melhor, mais espontâneo. E isso não é papo de meditação ou esoterismo, é ciência mesmo.
O estudo do cérebro em estado de repouso tem ganhado cada vez mais espaço na neurociência. Uma das ideias mais interessantes que surgiram é a de que o cérebro, mesmo sem tarefa nenhuma, fica produzindo padrões e flutuações complexas. Essas flutuações, que antes pareciam ruído, começaram a ser vistas como um tipo de reserva funcional, um preparo silencioso para quando a gente realmente precisa usar nossas habilidades cognitivas.
E é aí que entra um conceito que parece saído direto de um curso de física, mas que está revolucionando o modo como entendemos o funcionamento cerebral: a entropia.
Entropia, nesse contexto, é uma medida de imprevisibilidade, de aleatoriedade. Quando falamos em entropia do cérebro, ou "brain entropy", estamos tentando entender o quão organizadas — ou desorganizadas — estão as flutuações da atividade cerebral em repouso. Um cérebro muito caótico pode ter dificuldade de manter funções básicas. Um cérebro rígido demais, com pouca variação, pode ser pouco adaptável. Então a entropia seria como uma régua para medir esse equilíbrio sutil entre ordem e desordem. Parece complexo de entender, mas não é.
Essa medida, que parece tão técnica, tem relação direta com nossa inteligência, com os anos de estudo que acumulamos e até com o desempenho em tarefas cognitivas. Quando alguém diz que estudar "expande a mente", talvez esteja falando, sem saber, de uma redução na entropia cerebral em regiões estratégicas do cérebro.
Pesquisadores conseguiram medir essa entropia usando exames de ressonância magnética funcional em repouso. Ao invés de observar o cérebro durante tarefas específicas, eles capturaram os momentos em que os voluntários estavam apenas descansando, sem estímulos externos. E o que viram foi revelador: mesmo sem fazer nada, o cérebro mantém uma atividade riquíssima, cheia de flutuações que carregam informações sobre nossa cognição e até nosso histórico de aprendizado.
A entropia foi medida principalmente em duas redes cerebrais: a rede do modo padrão (a famosa DMN, aquela que fica ativa quando estamos pensando em nós mesmos, no futuro, em situações sociais) e a rede de controle executivo (ECN, mais voltada para o planejamento, atenção e tomada de decisão). Essas duas áreas são tipos os bastiões da cognição de alto nível. E a entropia nelas não é aleatória: quanto menor a entropia nessas redes, melhor a pessoa se sai em testes de inteligência fluida, que avaliam a capacidade de resolver problemas novos.
Olha que interessante: menos entropia, mais inteligência. É como se o cérebro, ao manter essas regiões mais coesas e menos caóticas em repouso, ficasse mais bem preparado para responder a desafios quando necessário. Parece contraintuitivo, não é? Mas faz sentido se pensarmos que um sistema mais estável tem mais chance de acessar com precisão os circuitos certos na hora de agir.
E tem mais: anos de escolaridade também aparecem relacionados a essa entropia. Pessoas com mais tempo de estudo tendem a ter entropia menor naquelas mesmas regiões. Isso pode indicar que o aprendizado formal ajuda a refinar os caminhos internos do cérebro, reduzindo o ruído e aumentando a eficiência. Estudar, nesse caso, organiza literalmente o cérebro por dentro.
Agora, não significa que todo o cérebro deve ter entropia baixa. Outras regiões, como as áreas motoras e visuais, apresentaram entropia mais alta. E tudo bem. Cada região tem sua dinâmica própria. O importante é que, nas áreas ligadas ao controle e ao pensamento de alto nível, uma entropia mais "comportada" parece ser benéfica.
Um ponto interessante desse estudo foi a estabilidade temporal da entropia. Eles dividiram as medições em várias janelas de tempo e viram que o padrão se repetia: a entropia não variava muito ao longo do tempo. Isso é importante porque mostra que essa medida não é uma fotografia passageira do cérebro, mas algo mais próximo de uma "assinatura" estável, um traço da pessoa.
Outra descoberta que chamou atenção foi a diferença entre homens e mulheres. As mulheres apresentaram entropia mais alta em algumas regiões, como o córtex visual e motor. A explicação ainda não é clara, mas pode envolver fatores hormonais e diferenças no processamento sensorial entre os sexos. Ainda é cedo para tirar conclusões definitivas, mas já dá para dizer que gênero também influencia esse tipo de organização cerebral.
E o envelhecimento? A entropia tende a aumentar com a idade, principalmente naquelas regiões que citamos antes, a DMN e a ECN. Pode parecer preocupante, mas também abre uma brecha para esperança: se estudar ajuda a diminuir a entropia, talvez a educação ao longo da vida seja uma forma de proteger o cérebro do desgaste natural. Estimular o pensamento, manter-se curioso, aprender coisas novas, tudo isso pode ser um jeito de frear a desorganização que vem com o tempo.
E o mais incrível: a entropia também tem relação com desempenho em tarefas práticas. Em testes de memória de trabalho, linguagem e raciocínio relacional, pessoas com entropia mais baixa nas áreas-chave do cérebro tiveram desempenho melhor. É como se o estado de repouso do cérebro antecipasse sua eficiência em tarefas futuras. A calma antes da tempestade, mas uma calma cheia de informação.
Alguns acreditam ainda que o cérebro funciona como uma máquina que só liga quando acionamos. Mas a verdade é que ele nunca desliga. Mesmo em silêncio, ele está lá, processando, se reorganizando, testando caminhos. E quanto mais entendemos esse funcionamento silencioso, mais nos damos conta de que cuidar do cérebro vai muito além de resolver palavras-cruzadas ou fazer sudoku.
A qualidade do nosso repouso mental, a maneira como deixamos o pensamento vagar, a quantidade de estímulos que permitimos entrar, tudo isso influencia o nível de organização interna. É um chamado para dar mais valor ao ócio criativo, à pausa, ao silêncio. É ali, nesses momentos que parecem desimportantes, que o cérebro afina seus instrumentos.
E se tem uma coisa que esse estudo escancara, é que inteligência não é só dom, nem só esforço consciente. Ela também depende de como o nosso cérebro se organiza quando ninguém está olhando. A inteligência silenciosa, que brota do caos bem controlado da entropia.
O mais bonito disso tudo é perceber que o cérebro pode mudar. Não estamos presos a uma configuração de fábrica. A entropia cerebral é moldável. Pode ser reduzida com estímulo, com aprendizagem, com experiência. E essa mudança não acontece só nas crianças, mas em qualquer idade.
Fica, então, a provocação: que tipo de entropia você anda cultivando na sua mente? Você deixa o pensamento vagar com qualidade? Alimenta sua mente com bons desafios? Cria espaço para que a calma cerebral seja também fértil? A ciência tem mostrado que o cérebro, mesmo em descanso, é uma festa de possibilidades. E entender como essa festa se organiza pode ser o segredo para viver com mais lucidez, mais criatividade e mais saúde mental.