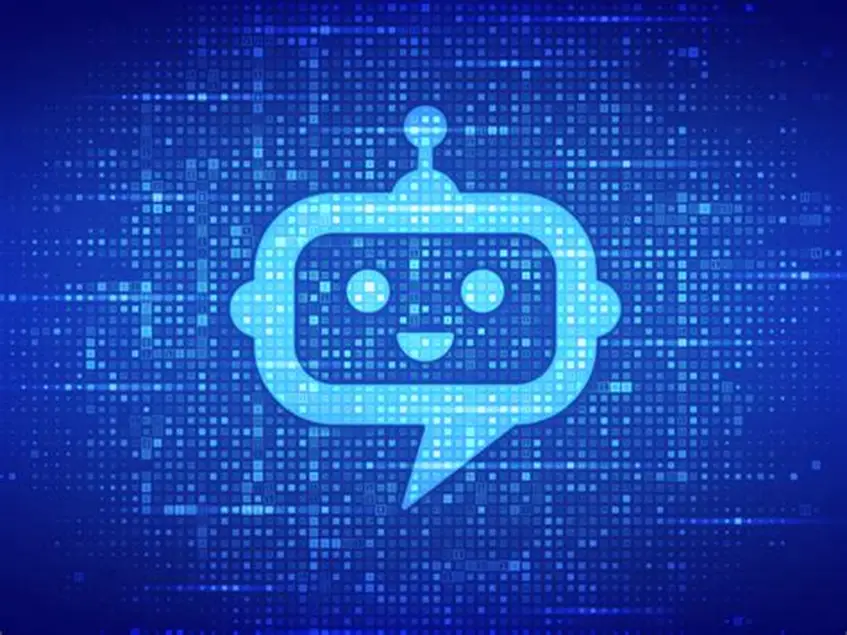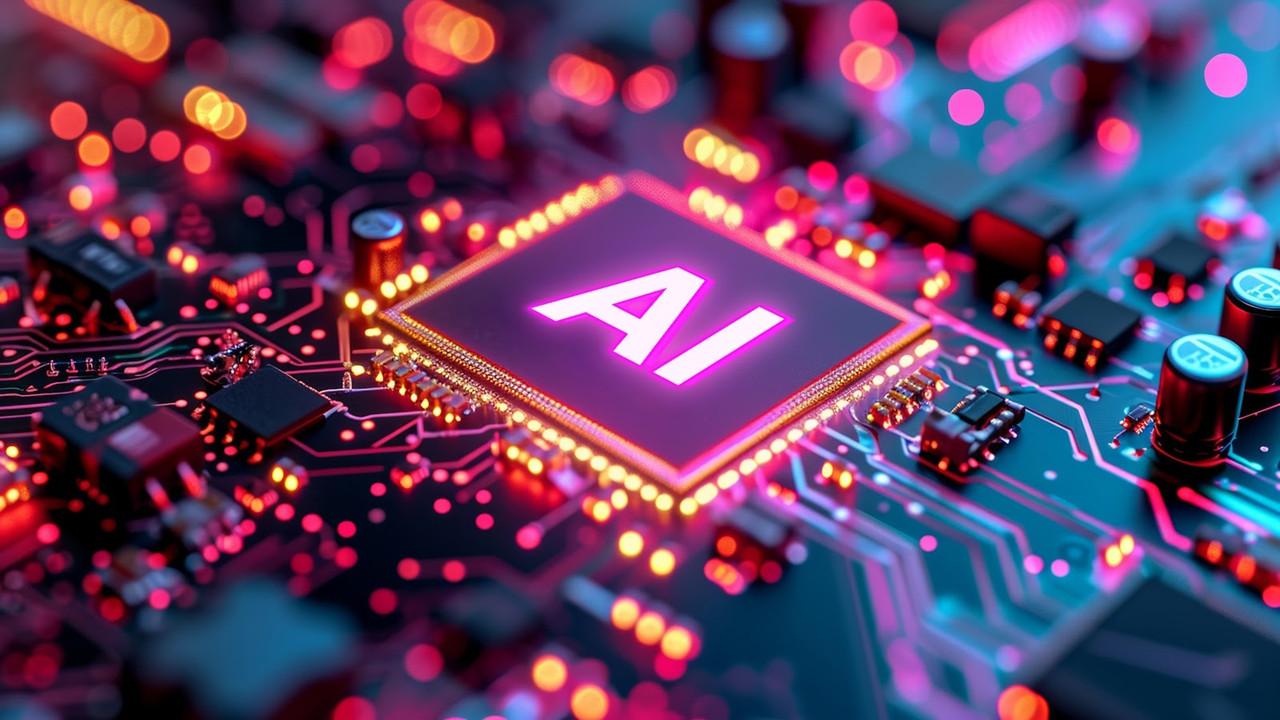Hoje em dia os data center demanda muita energia, o que está dando um problema grave hídrico. A maioria dos data center de treinamento de Inteligência Artificial funciona assim: você junta milhares de servidores, cada um lotado de GPUs, liga tudo com uma rede absurdamente rápida, alimenta o conjunto com dados em velocidade industrial, e transforma eletricidade em cálculos, cálculos em calor, calor em água evaporada ou em sistemas de refrigeração cada vez mais complexos.
Parece simples na frase, só que por dentro é uma fábrica de termodinâmica. O treinamento de modelos grandes é um processo distribuído, o modelo “mora” em pedaços espalhados por centenas ou milhares de GPUs, cada pedaço calculando gradientes e sincronizando resultados o tempo todo. Isso exige não só GPU, exige memória, armazenamento, rede, orquestração, redundância, e um prédio inteiro feito para não derreter.
O data center de IA por dentro, o caminho da energia até virar resposta
A primeira é a camada de computação, onde ficam as GPUs e CPUs. Em IA moderna, as GPUs viraram o motor principal porque conseguem fazer muitas multiplicações e somas em paralelo, que é justamente a moeda do treinamento. A densidade de potência por rack disparou, um rack que antes era “pesado” com alguns quilowatts hoje pode virar dezenas de quilowatts, e em projetos de IA isso sobe ainda mais. Isso muda tudo, muda a forma de distribuir energia no piso, muda o tipo de cabo, muda a arquitetura de refrigeração, muda até o quanto um prédio aguenta sem virar um forno.
A segunda camada é a rede. Treinar um modelo grande não é um monte de computadores independentes, é um “cérebro coletivo” que precisa conversar o tempo inteiro. A rede vira parte do computador. Por isso entram tecnologias de interconexão de altíssima banda e baixa latência, e por isso, quando alguém fala que “é só comprar mais GPU”, está ignorando que sem rede decente você compra gargalos caros.
A terceira camada é armazenamento e dados. O treinamento é uma esteira, dados chegam, são pré-processados, entram em lotes, geram atualizações. Só que dados grandes não são arquivos bonitinhos, são petabytes, e petabyte não gosta de improviso. Quando o armazenamento engasga, as GPUs ficam ociosas, e GPU ociosa é dinheiro queimando e energia desperdiçada.
A quarta camada é a infraestrutura predial, energia e refrigeração. E aqui aparece o truque que pouca gente vê: muitas vezes a “TI” é a menor parte do problema físico. O resto é entregar energia com estabilidade e tirar calor sem depender de milagres.
É por isso que existem métricas como PUE, Power Usage Effectiveness, que mede a razão entre a energia total do data center e a energia que chega de fato nos equipamentos de TI, quanto mais perto de 1, melhor. PUE virou padrão internacional formalizado em norma ISO.
Só que, quando a conversa é IA, entra um segundo fantasma, a água. Aí aparece outra métrica, WUE, Water Usage Effectiveness, litros de água por kWh gasto pela TI. Essa conta expõe um detalhe desconfortável: dá para ser “eficiente em energia” e ainda assim ser um monstro hídrico, depende do tipo de resfriamento e do clima.
Por que IA puxa a tomada com tanta força
Data center sempre gastou energia, a nuvem já era uma indústria gigantesca. O salto recente tem uma assinatura clara, a aceleração por IA. A Agência Internacional de Energia projeta que o consumo elétrico global de data centers pode mais que dobrar e chegar perto de 945 TWh em 2030, com crescimento anual na casa de ~15% no período 2024–2030, e a própria IEA coloca IA como o principal motor dessa alta, com demanda de data centers otimizados para IA crescendo várias vezes até 2030.
Isso não é só “mais servidores”. IA empurra o limite físico do rack, e quando a densidade sobe, o que antes era “ar condicionado de sala grande” vira um projeto térmico quase de indústria pesada.
A consequência direta é que energia deixa de ser um item de custo e vira gargalo estratégico. Não basta ter dinheiro, tem que ter conexão com a rede elétrica, tem que ter subestação, tem que ter transformador, tem que ter licença, tem que ter contrato, tem que ter previsibilidade. Em muitos lugares, o tempo para conseguir a interligação com a rede vira o cronograma real do projeto, não a obra do prédio.
E existe um efeito colateral bem humano nisso: quando um data center entra numa região, ele compete com todo mundo por infraestrutura. A conversa vira política local. Quem recebe a energia? Quem paga pela expansão da rede? Quem absorve o risco quando dá pico? Quem segura a bronca quando falta água?
A água, o recurso que some “sem barulho”
O problema hídrico não é um acidente, ele é uma escolha técnica que, durante décadas, foi razoável. Muitos data centers usam resfriamento evaporativo ou torres de resfriamento porque água evaporando é um jeito eficiente de remover calor. Funciona muito bem, especialmente em climas secos. Só que eficiência física não é sinônimo de sustentabilidade social.
Para dar escala mental, relatórios e levantamentos recentes usam números que assustam quando saem do abstrato. Um relatório do governo do Reino Unido sobre uso de água em data centers e IA cita que um data center de 100 MW pode consumir em torno de 2,5 bilhões de litros por ano, algo comparável às necessidades de dezenas de milhares de pessoas, e traz a ideia de competição direta com água potável em períodos de seca, com risco de conflito social em áreas de estresse hídrico.
Esse mesmo relatório cita estimativas globais em que o setor de data centers consome centenas de bilhões de litros de água por ano, com projeções que podem subir de forma relevante até 2030.
A parte mais irritante é que, em muitos casos, o cidadão não “vê” essa água indo embora. Não é uma indústria com chaminé óbvia. É um galpão limpinho, com cerca, com logo moderno, e o consumo aparece na conta municipal como uma curva subindo.
WUE ajuda a tirar o véu. Há fontes que colocam médias de WUE por volta de ~1,8 a 1,9 L/kWh em data centers, com variação grande por clima e tecnologia, e com metas de projetos bons tentando ficar bem abaixo disso.
Só que WUE também tem pegadinha: ele costuma medir a água “no site” e relacionar com a energia de TI. A água escondida na geração de energia pode ser enorme. Dependendo de como a eletricidade é produzida, existe água usada na cadeia inteira, resfriamento de termelétricas, perdas, reservatórios, mineração, e isso vira uma espécie de “água virtual” do modelo. O relatório do Reino Unido bate nessa tecla, falando do elo água-energia e do quanto o impacto vai além do perímetro do data center.
Tem mais um capítulo que quase ninguém lembra, fabricação de chips. Os aceleradores de IA são semicondutores avançados, fabricados com processos que usam água ultra pura em volumes grandes para limpeza e enxágue de wafers. Mesmo que o operador do data center não controle isso diretamente, faz parte da pegada hídrica total.
Por que a crise hídrica aparece agora, a mistura de densidade e geografia
Se você coloca uma fazenda de GPUs num lugar frio, com água abundante e energia limpa, a história fica menos dramática. Só que o mundo real adora ironia: muita capacidade de data center cresce perto de grandes centros econômicos, onde a terra é cara, a água é disputada, e a energia já vive no limite. Em regiões quentes, o resfriamento exige mais trabalho, e em regiões secas, evaporar água parece uma tentação técnica, só que é justamente onde a água já é um tema delicado.
Reportagens recentes vêm explorando exatamente esse choque, data centers crescendo em regiões com estresse hídrico, com iniciativas tentando reduzir consumo de água e, ao mesmo tempo, esbarrando no trade-off clássico, reduzir água costuma aumentar energia, porque sistemas “waterless” frequentemente precisam de mais ventilação, mais compressão, mais refrigeração mecânica.
Esse trade-off é a essência do problema. A física não dá desconto. Você tira calor do chip e joga em algum lugar, ar, água, líquido dielétrico, circuito fechado, e cada escolha cobra um preço diferente.
As soluções técnicas mais citadas, e por que nenhuma é mágica
1) Resfriamento líquido direto no chip (direct-to-chip).
Em vez de soprar ar gelado e esperar que o calor saia do dissipador, você coloca líquido circulando em placas frias próximas ao chip. Isso permite densidades maiores com menos consumo de água no site, dependendo do sistema. É um caminho natural quando racks viram “mini-usinas”.
2) Imersão (immersion cooling).
Os servidores ficam mergulhados em um fluido especial, que remove calor de forma eficiente. Pode reduzir espaço e facilitar densidade, só que muda manutenção, muda fornecedores, muda tudo, e ainda precisa rejeitar calor para o ambiente em algum ponto.
3) Sistemas de circuito fechado e reaproveitamento.
Em vez de usar água potável e evaporar, dá para recircular e usar trocadores de calor mais inteligentes. Só que a conta de energia pode subir, e a complexidade operacional aumenta.
4) Migração geográfica e design orientado a clima.
Construir onde o clima ajuda é uma solução elegante no papel. Na prática, esbarra em latência, em disponibilidade de rede, em regulação, em impostos, em mão de obra, em incentivos locais.
5) Reuso de calor.
O calor de data center pode aquecer prédios, água de distrito, processos industriais. Em alguns países isso faz sentido econômico. Em muitos lugares, falta infraestrutura para capturar e distribuir esse calor, e o calor vira desperdício.
O ponto importante é que eficiência não é uma chavinha, é um ecossistema de decisões. PUE é útil, WUE é útil, só que a métrica sozinha vira maquiagem se você otimiza um lado e explode o outro.
Os potenciais, o lado em que isso pode valer a pena como sociedade
Até aqui parece que data center é um vilão de ficção científica que bebe rios. Só que o lado útil é real, e dá para falar dele sem romantizar.
A capacidade de computação concentrada permite avanços em áreas onde simulação e modelagem são vitais, descoberta de fármacos, previsão meteorológica, otimização de redes elétricas, engenharia de materiais, tradução e acessibilidade, automação de tarefas repetitivas em saúde e serviços, educação personalizada quando feita com responsabilidade. A própria IEA discute o potencial de IA para transformar como o setor de energia opera, com ganhos de eficiência, previsão e integração de renováveis, desde que seja aplicada com objetivo e governança.
Existe um uso interessante e meio subestimado: IA para operar o próprio data center. Prever carga, deslocar workloads, ajustar resfriamento em tempo real, reduzir desperdício, detectar falhas antes de virar pane. É a versão moderna de “o monstro ajuda a domar o monstro”.
E tem um argumento econômico que, goste ou não, pesa. Data centers são infraestrutura estratégica. Eles atraem investimento, empregos indiretos, arrecadação, e funcionam como base para empresas locais consumirem computação sem depender de continentes de distância. Países e estados tratam isso como corrida industrial.
Os problemas, onde a conta chega sem pedir licença
1) Emissões e o risco de empurrar a rede para fontes fósseis.
Quando a demanda cresce mais rápido que a capacidade limpa, a energia marginal pode vir de térmicas, e isso piora emissões. Matérias recentes chamam atenção para o crescimento acelerado e para casos em que expansão de capacidade e uso de combustíveis fósseis entram na mesma frase, justamente porque a velocidade do “boom de IA” pressiona sistemas elétricos que já estão no limite.
2) Falta de transparência.
Sem dados claros, a sociedade fica discutindo no escuro. Há pressão para exigir divulgação de consumo de energia, água e emissões, porque hoje muita informação é voluntária e fragmentada, e isso impede planejamento público e fiscalização séria.
3) Competição por água potável em períodos críticos.
O relatório do Reino Unido explicita esse ponto, a dependência de água potável para resfriamento pode competir com abastecimento humano, e em secas pode gerar restrições e conflitos.
4) Concentração do impacto.
Uma cidade pode sentir muito mais que a média global. Estudos e revisões citam exemplos em que instalações representam fatia relevante do consumo municipal, como o caso citado para The Dalles, nos EUA, em que o consumo de um data center aparece como parcela grande do uso da cidade em certos anos.
5) Pegada material e cadeia de suprimentos.
A conversa não termina na conta de luz e água. GPU e infraestrutura têm carbono incorporado, mineração, refino, fabricação, transporte, descarte. A cada ciclo de upgrade, uma montanha de hardware muda de lugar. Esse lado é menos visível, e por isso é fácil ignorar.
6) O risco do “rebound effect”, eficiência que vira expansão.
Você melhora eficiência do modelo, reduz custo por inferência, e de repente surgem dez novos produtos, todos rodando IA o dia inteiro. O consumo total sobe mesmo com eficiência melhorando. Esse efeito aparece em várias áreas da economia, IA não é exceção.
Onde dá para atacar o problema de forma prática, sem virar teatro
Tem um caminho que envolve engenharia e governança ao mesmo tempo.
Na engenharia, a redução de desperdício computacional é ouro. Técnicas como quantização, distilação, sparsity, treinamento mais inteligente, fine-tuning em vez de treinar do zero, tudo isso reduz energia por resultado útil. Existe uma diferença brutal entre “treinar porque dá” e “treinar porque precisa”.
Na operação, dá para deslocar carga. Treinamentos longos podem ser agendados para horários de maior oferta renovável, ou para regiões com melhor perfil energético, desde que a arquitetura do sistema permita. Não resolve tudo, só que é melhor do que ignorar o relógio e a rede.
Na infraestrutura, a escolha do resfriamento deve considerar bacia hidrográfica, não só custo. WUE deveria entrar em licenciamento e contratos de forma explícita, com metas e auditoria. Se o data center promete “water positive”, a pergunta adulta é “em qual bacia, com qual metodologia, com que verificação”.
Na política pública, transparência é o primeiro passo que não depende de tecnologia futurista. Medir e reportar consumo de energia, água e emissões, com metodologia padronizada, cria base para planejamento. Relatórios como o do Reino Unido defendem exatamente a necessidade de dados confiáveis para governança, e apontam que esforços voluntários podem ser insuficientes quando a curva de crescimento é agressiva.
E existe uma conversa que pouca gente quer ter, priorização. Nem todo uso de IA é igualmente valioso. Treinar modelos gigantes para ganhar décimos de ponto em benchmark pode ser ciência, pode ser marketing, pode ser as duas coisas. Quando água e energia viram recursos em disputa, a pergunta “isso vale o custo social” para de ser filosofia e vira administração pública.
O século passado tratou eletricidade como base invisível da economia. Este século está tratando computação como base invisível da economia. A diferença é que agora a base invisível esquenta, evapora água, pressiona rede e entra na política local como um novo tipo de indústria, limpa por fora, intensa por dentro. A boa notícia é que o problema é material e mensurável, dá para modelar, dá para regular, dá para projetar melhor. A má notícia é que a curva de crescimento é rápida, e curvas rápidas punem sociedades que gostam de decidir devagar.
Referências
Information technology — Data centres — Key performance indicators https://www.iso.org/standard/63451.html
Data Centers and Water Consumption https://www.eesi.org/articles/view/data-centers-and-water-consumption
Energy demand from AI https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai
Desert storm: Can data centres slake their insatiable thirst for water? https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/desert-storm-can-data-centres-slake-their-insatiable-thirst-water--ecmii-2025-12-17/
AI is set to drive surging electricity demand from data centres while offering the potential to transform how the energy sector works https://www.iea.org/news/ai-is-set-to-drive-surging-electricity-demand-from-data-centres-while-offering-the-potential-to-transform-how-the-energy-sector-works
‘Just an unbelievable amount of pollution’: how big a threat is AI to the climate? https://www.theguardian.com/technology/2026/jan/03/just-an-unbelievable-amount-of-pollution-how-big-a-threat-is-ai-to-the-climate
Call to make tech firms report data centre energy use as AI booms https://www.theguardian.com/technology/2025/feb/07/call-to-make-tech-firms-report-data-centre-energy-use-as-ai-booms
The water use of data center workloads: A review and assessment of key determinants https://escholarship.org/uc/item/1vx545q7