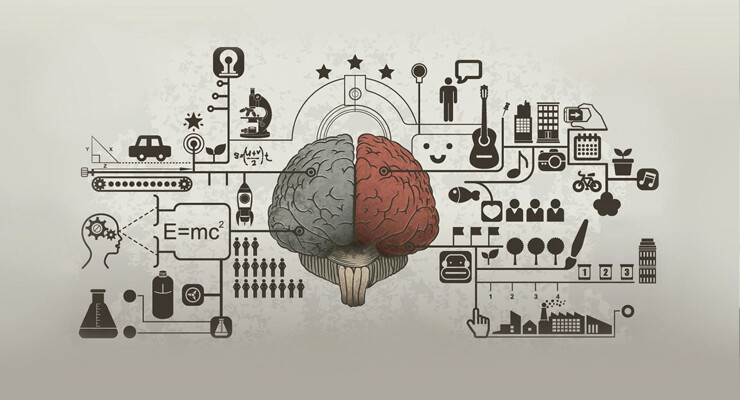Quando alguém fala “kombucha”, muita gente pensa num chá azedo e levemente borbulhante, servido em garrafinhas charmosas. Por trás dessa imagem está um processo biológico fascinante: a fermentação de folhas de chá (Camellia sinensis) com açúcar e uma comunidade simbiótica de microrganismos — o famoso SCOBY, uma “panqueca” gelatinosa onde bactérias e leveduras convivem e trabalham. Esse trabalho conjunto transforma açúcar e compostos do chá em uma bebida ácida, discreta no gás e rica em moléculas bioativas. É daí que nasce a promessa: propriedades antimicrobianas, potencial antioxidante e uma lista de possíveis benefícios à saúde que vêm sendo investigados por diferentes áreas, da microbiologia à nutrição.
Mas será que a popularidade cresceu só na moda saudável ou também na produção de conhecimento de qualidade? A resposta, em números, é contundente. Nas últimas três décadas, pesquisadores publicaram 1.099 estudos sobre kombucha, com uma taxa de crescimento anual de 9,06%. Isso não é um surto passageiro: é uma curva consistente de interesse acadêmico.
Vamos percorrer esse terreno com calma, mas sem subestimar sua curiosidade. A ideia é mostrar por que essa bebida entrou no radar da ciência, o que já dá para afirmar com segurança e onde ainda faltam peças no quebra-cabeça, principalmente quando a conversa sai do laboratório e aterrissa no copo de quem consome no dia a dia.
A fermentação é uma das tecnologias alimentares mais antigas. No caso da kombucha, o SCOBY reúne bactérias (com destaque para grupos de ácido acético, como Acetobacter, Gluconobacter e Komagataeibacter) e leveduras (como Saccharomyces e Zygosaccharomyces). Juntas, elas metabolizam açúcares e compostos do chá, gerando ácidos orgânicos (ácido acético, glucurônico, gluconato, entre outros), vitaminas e uma variedade de fenólicos (catequinas, por exemplo). Esse “caldo químico” explica parte do interesse: moléculas antioxidantes e antimicrobianas emergem do processo e variam conforme tipo de chá, proporção de açúcar, microrganismos presentes e tempo/temperatura de fermentação. Em linguagem simples: a receita muda, o resultado muda.
Se a variação é a regra, padronizar é o desafio. Hoje, a produção de kombucha ainda carece de normas uniformes, o perfil químico oscila de um lote a outro e de um produtor a outro. Para quem pesquisa, isso complica comparações e atrapalha a criação de “selos de qualidade” confiáveis. Para quem bebe, significa que duas garrafas diferentes podem não entregar a mesma coisa.
Outra pergunta inevitável: onde está a força dessa ciência? Em volume bruto, China, Brasil, Estados Unidos e Índia lideram a produção de artigos. Outros países saltam aos olhos pela vitalidade recente, como Irã, Indonésia e Sérvia. Só que “quantidade” não é igual a “impacto”. Quando a métrica muda para citações médias por artigo, um indicador, com todas as suas imperfeições, de ressonância acadêmica, despontam países como Eslovênia, Dinamarca e Holanda. Em miúdos: alguns centros publicam menos, mas acertam com precisão cirúrgica em temas e métodos que o campo todo considera valiosos.
Cooperação também faz diferença. Há nações com alta proporção de estudos multicêntricos, França, Eslovênia e Dinamarca, o que tende a ampliar o alcance e a robustez dos achados. Outras, como Sérvia e Turquia, publicam majoritariamente de forma local. Para um tema tão multifacetado, colaborações internacionais ajudam a alinhar protocolos, cruzar dados e reduzir vieses regionais.
Esse retrato vem acompanhado de um detalhe curioso: mesmo com mais dinheiro e gente, países de grandes economias nem sempre brilham nos índices normalizados por população ou PIB, a posição da China nesses indicadores, por exemplo, ainda é modesta, sugerindo espaço para amadurecimento do campo em termos de impacto proporcional.
No copo, a kombucha traz uma mistura de polifenóis, ácidos orgânicos, vitaminas e possíveis “pós-bióticos”. Vale explicar: “probiótico” é o organismo vivo com benefício para a saúde em quantidades adequadas; “pós-biótico” são substâncias produzidas por microrganismos (vivas ou não) que exercem efeitos benéficos. Diante da instabilidade na sobrevivência de micróbios vivos até o consumo e da diversidade de processos, alguns pesquisadores argumentam que o enquadramento como pós-biótico faz mais sentido para parte dos efeitos sugeridos. Essa distinção importa porque muda o foco: não só “quem está vivo”, mas “o que foi produzido” durante a fermentação.
Os alvos mais investigados incluem: atividade antioxidante, ação antimicrobiana contra patógenos, modulação de lipídios e glicose, e efeitos potenciais contra processos ligados a câncer. Em modelos experimentais, há sinais positivos para melhora de tolerância à glicose, redução de marcadores de estresse oxidativo e até ajustes em enzimas hepáticas. Tudo isso é promissor, mas exige cuidado na tradução para pessoas, com ensaios clínicos bem desenhados.
Você pode estar se perguntando: dá para afirmar que kombucha “trata” alguma doença? A resposta honesta, hoje, é não. O que existe são pistas biológicas plausíveis e resultados em células, animais e pequenos estudos em humanos. É por isso que, mais à frente, vou reforçar a importância de padronização e de ensaios clínicos robustos como o coração da próxima fase do campo.
A mesma literatura que exalta benefícios aponta lacunas em estudos de toxicologia e segurança. Há relatos esparsos de efeitos adversos e, por prudência, recomenda-se evitar o consumo por bebês e crianças pequenas, gestantes, pessoas com insuficiência renal e pacientes com HIV. Repare que esse “evitar” não nasce de pânico, mas da ausência de evidência forte de segurança nessas populações e do risco potencial em bebidas artesanais sem controle estrito.
Esse ponto, por si só, justificaria regulações mais claras para produção e rotulagem, algo que beneficia tanto o consumidor quanto o produtor sério. E nos traz de volta ao tema da padronização, que não é burocracia vazia: é a ponte entre a bancada, a indústria e a confiança pública.
Há um jeito interessante de avaliar um tema de pesquisa que vai além de ler artigo por artigo: a bibliometria. Em termos simples, é o estudo quantitativo da produção científica, como se tirássemos uma foto panorâmica dos artigos publicados, medindo volume, colaborações, redes de palavras-chave, impacto por citação e tendências ao longo do tempo. Essa abordagem não diz “o que é verdade” sobre um efeito biológico, mas responde “como a comunidade tem estudado o assunto” e “para onde está olhando”. Útil para perceber lacunas: se quase ninguém testa X em humanos, há um sinal do que precisa acontecer.
Em kombucha, essa lente revela três trilhas que se entrelaçam: a dinâmica de fermentação e microbiota (quem está no SCOBY e o que cada um produz), as bioatividades relacionadas à saúde (antioxidantes, antimicrobianas) e as aplicações da celulose bacteriana derivada do processo (de embalagens a biomateriais). Três focos, um eixo comum: como transformar um sistema biológico variável em produtos e recomendações confiáveis.
Pouca gente percebe, mas aquele “tapete” que flutua durante a fermentação é uma fábrica de celulose bacteriana. Esse material, leve e resistente, vem ganhando aplicações que vão muito além do copo. Há estudos usando a celulose como base para embalagens ativas (embalagens que ajudam a preservar e proteger melhor alimentos), como suporte em têxteis e até como curativo em feridas de pele. Em algumas propostas, incorpora-se agentes antimicrobianos na matriz, dando ao material uma função protetora adicional, um exemplo elegante de economia circular: resíduos de um processo alimentício virando insumos de alto valor.
Esse braço tecnológico cresce justamente porque não depende do sabor da bebida, mas das propriedades físicas e químicas do polímero. É um lembrete de que “kombucha” não é uma coisa só: é um ecossistema de processos, ingredientes e produtos.
Se o tipo de chá, a dose de açúcar, a composição do SCOBY e o tempo de fermentação variam, o perfil final muda. Em termos leigos, pense em receitas de bolo com farinhas, fermentos e tempos de forno diferentes. A massa pode até lembrar a mesma coisa, mas a textura e o sabor saem distintos. No caso da kombucha, a diferença não é só no paladar: a concentração de ácidos orgânicos, fenólicos e vitaminas também oscila, o que, por consequência, mexe com qualquer efeito biológico que se queira atribuir à bebida. Sem padrão, comparar estudo A com estudo B vira um jogo injusto.
É por isso que laboratórios e empresas têm trabalhado em protocolos mais uniformes, desde a origem do SCOBY até parâmetros de tempo e temperatura. O objetivo não é “engessar” a cultura artesanal, e sim criar faixas de referência que tornem resultados reproduzíveis. Só assim dá para avançar de promessas gerais para evidências específicas.
Para quem acompanha como leitor interessado, isso tem um lado prático: se você gosta de “ir à fonte”, acompanhar esses periódicos é uma boa forma de ver a pauta evoluindo, desde estudos de composição química até testes de aplicações da celulose bacteriana. Veja as referências no final do artigo.
Vamos sintetizar os achados com linguagem direta:
Há um corpo crescente de evidências experimentais de que a kombucha pode apresentar atividade antioxidante e antimicrobiana, com possíveis impactos em marcadores metabólicos. Esses efeitos, quando aparecem, costumam estar associados à presença e à combinação de polifenóis, ácidos orgânicos e outros metabólitos gerados na fermentação.
A composição da bebida é sensível à receita. Tipo de chá, açúcar, microbiota e tempo/temperatura de fermentação mexem nas concentrações de compostos-chave. Onde há variabilidade, há incerteza — e isso pede padronização e transparência de rótulo.
Segurança precisa sair da zona cinzenta. Faltam estudos toxicológicos e clínicos amplos. Por cautela, há grupos populacionais para os quais o consumo não é recomendado. Essa orientação é especialmente importante para fermentações caseiras.
O campo não se resume à bebida. A celulose bacteriana abre uma linha vibrante de pesquisa aplicada, com impacto potencial em embalagens e biomateriais.
Perceba que um ponto retorna como um refrão: padronização. Ele apareceu quando falamos de composição, voltou na discussão de segurança e ressurge quando pensamos em transformar evidências em recomendações. Não é teimosia, é o eixo que sustenta a confiabilidade.
Pergunta incômoda, resposta honesta: “Kombucha faz bem?” A resposta honesta começa com “depende”, do que você chama de “fazer bem”, da sua condição de saúde, de como a bebida foi produzida e do quanto você consome. Se sua expectativa é uma fonte milagrosa, a ciência não entrega isso. Se você busca uma bebida fermentada, com acidez discreta, potencial antioxidante e uma experiência sensorial que agrade, há espaço para a kombucha na rotina, principalmente quando o produto vem de processos confiáveis e rotulagem clara.
Agora, se você está em um dos grupos de risco mencionados, o melhor caminho é não consumir, justamente porque o campo ainda não forneceu garantias suficientes de segurança. E, se você produz em casa, controle sanitário e bom senso não são opcionais.
E daqui para frente? A imagem atual mostra um campo em expansão, colaborativo e cada vez mais interdisciplinar. A tendência é ver mais estudos que conectam a química fina da bebida com efeitos biológicos em modelos de maior relevância clínica. Para chegar lá, duas frentes são decisivas: ensaios clínicos bem desenhados (desfechos claros, amostras adequadas, padronização de lotes) e guias de produção que reduzam variações perigosas sem matar a diversidade criativa do produto. Em paralelo, a “segunda vida” da kombucha, a celulose bacteriana, deve ganhar protagonismo, especialmente em embalagens ativas e materiais sustentáveis.
No plano geográfico, é razoável esperar que países já prolíficos sigam puxando a fila, enquanto centros com alto impacto médio mantenham o papel de “laboratórios de ideias” que o resto do mundo observa. Colaborações internacionais maiores devem surgir conforme grupos alinham protocolos e partilham bancos de SCOBY caracterizados.
Antes de encerrar, volto a duas ideias que estruturam toda essa conversa.
A primeira: kombucha é um sistema, não só uma bebida. A ciência olha para o conjunto, chá, açúcar, microrganismos, tempo, e para o que sai dele: compostos bioativos e materiais como a celulose. Quando você escolhe uma garrafa, está escolhendo, sem perceber, uma versão desse sistema.
A segunda: padronização é o caminho para sair do terreno da crença e chegar no da evidência. Sem ensaios clínicos que falem a mesma língua e sem processos que reduzam variações críticas, qualquer frase taxativa sobre benefícios fica sem chão. Com eles, dá para ser exigente com o que se consome e justo com o que a ciência de fato já mostrou.
Se tudo isso te parece cuidadoso demais para “só um chá”, talvez essa seja a melhor conclusão indireta desta leitura: quando uma bebida fermentada junta cultura alimentar, microbiologia, química e engenharia de materiais, ela deixa de ser “só um chá”. Vira um pequeno laboratório portátil, um que pode ser prazeroso e interessante, desde que respeitado com o mesmo rigor com que foi descoberto.
Referências:
Júnior, J. C. D. S.; Meireles Mafaldo, Í.; Brito, D. L. I.; Tribuzy De Magalhães Cordeiro, A. M. (2022). “Kombucha: formulation, chemical composition, and therapeutic potentialities.” — Kombucha: formulação, composição química e potencialidades terapêuticas: Revisão concisa sobre como a bebida é preparada, sua composição típica (ácidos orgânicos, polifenóis, vitaminas) e hipóteses de efeitos biológicos associados ao processo fermentativo. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8844156/
Bishop, P.; Pitts, E. R.; Budner, D.; Thompson-Witrick, K. A. (2022). “Kombucha: biochemical and microbiological impacts on the chemical and flavor profile.” — Kombucha: impactos bioquímicos e microbiológicos no perfil químico e sensorial: Artigo que descreve como microbiota e condições de fermentação moldam compostos químicos e, por consequência, o sabor e aroma da bebida. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772753X22000144
Barros, V. C.; Botelho, V. A.; Chisté, R. C. (2024). “Alternative substrates for the development of fermented beverages analogous to Kombucha: an integrative review.” — Substratos alternativos para bebidas fermentadas análogas à kombucha: revisão integrativa: Levantamento sobre o uso de frutas, ervas, leite e outros substratos para fermentar bebidas “tipo kombucha”, com foco em parâmetros tecnológicos e resultados químicos/biológicos. https://www.mdpi.com/2304-8158/13/11/1768
Içen, H.; Corbo, M. R.; Sinigaglia, M.; Korkmaz, B. I. O.; Bevilacqua, A. (2023). “Microbiology and antimicrobial effects of Kombucha, a short overview.” — Microbiologia e efeitos antimicrobianos da kombucha: visão breve: Síntese do consórcio microbiano típico (bactérias acéticas e láticas; leveduras) e da atividade antimicrobiana observada contra patógenos alimentares. https://fair.unifg.it/handle/11369/461876
Laavanya, D.; Shirkole, S.; Balasubramanian, P. (2021). “Current challenges, applications and future perspectives of SCOBY cellulose of Kombucha fermentation.” — Desafios, aplicações e perspectivas da celulose bacteriana do SCOBY: Panorama do biofilme de celulose produzido durante a fermentação e suas aplicações emergentes em embalagens e biomateriais. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652621006740
Kruk, M.; Trząskowska, M.; Ścibisz, I.; Pokorski, P. (2021). “Application of the ‘SCOBY’ and Kombucha tea for the production of fermented milk drinks.” — Uso do SCOBY e da kombucha na produção de bebidas lácteas fermentadas: Estudo que explora o SCOBY como iniciador para lácteos, discutindo perfil microbiológico e características do produto final. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7825737/
Kaewkod, T.; Bovonsombut, S.; Tragoolpua, Y. (2019). “Efficacy of Kombucha obtained from green, oolong, and black teas on inhibition of pathogenic Bacteria, Antioxidation, and toxicity on colorectal Cancer cell line.” — Eficácia da kombucha (chá verde, oolong e preto) em inibir bactérias patogênicas, atividade antioxidante e toxicidade em linhagem de câncer colorretal: Demonstra ácidos orgânicos e atividade antioxidante/antimicrobiana in vitro, variando conforme o chá base. https://www.mdpi.com/2076-2607/7/12/700
Leal, J. M.; Suárez, L. V.; Jayabalan, R.; Oros, J. H.; Escalante-Aburto, A. (2018). “A review on health benefits of Kombucha nutritional compounds and metabolites.” — Revisão sobre benefícios à saúde dos compostos nutricionais e metabólitos da kombucha: Compila potenciais efeitos biológicos atribuídos a polifenóis, ácidos orgânicos e outros metabólitos formados na fermentação. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19476337.2017.1410499
Antolak, H.; Piechota, D.; Kucharska, A. (2021). “Kombucha tea—a double power of bioactive compounds from tea and symbiotic culture of Bacteria and yeasts (SCOBY).” — Chá kombucha — a “dupla potência” de compostos bioativos do chá e do SCOBY: Revisão enfatizando sinergias entre compostos do chá e produtos microbianos. https://www.mdpi.com/2076-3921/10/10/1541
Taupiqurrohman, O.; Hastuti, L. P.; Oktavia, D.; Al-Najjar, B. O.; Yusuf, M.; Suryani, Y.; et al. (2024). “From fermentation to cancer prevention: the anticancer potential of Kombucha.” — Da fermentação à prevenção do câncer: o potencial anticâncer da kombucha: Discussão de vias e alvos moleculares sugeridos para efeitos antiproliferativos. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667031324001076?via%3Dihub
Moreira, G. V.; Araujo, L. C. C.; Murata, G. M.; Matos, S. L.; Carvalho, C. R. O. (2022). “Kombucha tea improves glucose tolerance and reduces hepatic steatosis in obese mice.” — Chá de kombucha melhora a tolerância à glicose e reduz a esteatose hepática em camundongos obesos: Evidência pré-clínica de impacto metabólico e hepático favorável. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332222010496?via%3Dihub
Alaei, Z.; Doudi, M.; Setorki, M. (2020). “The protective role of Kombucha extract on the normal intestinal microflora, high-cholesterol diet caused hypercholesterolemia, and histological structures changes in New Zealand white rabbits.” — Papel protetor do extrato de kombucha na microbiota intestinal, hiperlipidemia induzida por dieta e alterações histológicas em coelhos: Estudo animal indicando efeitos em microbiota e marcadores metabólicos. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7711297/
Ezzat, S. M.; Mahrous, E. A.; Abdel-Sattar, E. (2025). “The effect of Kombucha tea on liver functions: a review of accumulated evidence.” — Efeito do chá de kombucha na função hepática: revisão da evidência acumulada: Síntese de estudos sobre marcadores de estresse oxidativo e enzimas hepáticas, sugerindo potencial hepatoprotetor. https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-food-systems/articles/10.3389/fsufs.2025.1593348/full
Costa, M. A.; Duarte, V. S.; Cardoso, R. R.; José, S.; De, V. P. B.; Da Silva, B. P.; et al. (2022). “KOMBUCHAS from green and black tea modulate the gut microbiota and improve the intestinal health of Wistar rats fed a high-fat high-fructose diet.” — Kombuchas de chá verde e preto modulam a microbiota e melhoram a saúde intestinal em ratos com dieta rica em gordura/frutose: Efeitos sobre composição microbiana e integridade intestinal em modelo de dieta ocidentalizada. https://www.mdpi.com/2072-6643/14/24/5234
Rivas-Arreola, M. J. (2025). “Production of bacterial cellulose from Kombucha.” — Produção de celulose bacteriana a partir de kombucha: Capítulo apresentando processos, rendimentos e aplicações industriais da celulose do SCOBY. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780443132971000103
Infante-Neta, A. A.; D’Almeida, A. P.; de Albuquerque, T. L. (2024). “Bacterial cellulose in food packaging: a bibliometric analysis and review of sustainable innovations and prospects.” — Celulose bacteriana em embalagens: análise bibliométrica e revisão de inovações sustentáveis: Mapeia aplicações de celulose bacteriana em embalagens ativas e tendências de sustentabilidade. https://www.mdpi.com/2227-9717/12/9/1975
Sabatini, F.; Maresca, E.; Aulitto, M.; Termopoli, V.; De Risi, A.; Correggia, M.; et al. (2025). “Exploiting Agri-food residues for Kombucha tea and bacterial cellulose production.” — Aproveitamento de resíduos agroalimentares para produção de kombucha e celulose bacteriana: Evidencia que compostos antioxidantes podem ficar retidos na matriz de celulose, habilitando usos tecnológicos. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813025008426
Bortolomedi, B. M.; Paglarini, C. S.; Brod, F. C. A. (2022). “Bioactive compounds in kombucha: a review of substrate effect and fermentation conditions.” — Compostos bioativos na kombucha: efeito do substrato e das condições de fermentação: Revisão de como tipo de açúcar/infusão, tempo e parâmetros controlam fenólicos e ácidos orgânicos. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35318172/
de Melo, L. M.; Soares, M. G.; Bevilaqua, G. C.; Schmidt, V. C. R.; de Lima, M. (2024). “Historical overview and current perspectives on Kombucha and SCOBY: a literature review and bibliometrics.” — Visão histórica e perspectivas atuais sobre kombucha e SCOBY: revisão e bibliometria: Organiza evolução do tema, lacunas e frentes de pesquisa em expansão. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221242922400511X?via%3Dihub
Donthu, N.; Kumar, S.; Mukherjee, D.; Pandey, N.; Lim, W. M. (2021). “How to conduct a bibliometric analysis: an overview and guidelines.” — Como conduzir uma análise bibliométrica: visão geral e diretrizes: Guia metodológico padrão para análises em larga escala de literatura científica. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296321003155
Desai, N.; Veras, L.; Gosain, A. (2018). “Using Bradford’s law of scattering to identify the core journals of pediatric surgery.” — Usando a Lei de Bradford para identificar periódicos “núcleo”: Exemplo aplicado de métrica clássica para mapear fontes mais centrais em um campo. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29937022/
Vargas, B. K.; Fabricio, M. F.; Záchia Ayub, M. A. (2021). “Health effects and probiotic and prebiotic potential of Kombucha: a bibliometric and systematic review.” — Efeitos à saúde e potencial probiótico/prebiótico da kombucha: revisão bibliométrica e sistemática: Integra evidências de benefícios, destacando variabilidade e necessidade de padronização. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212429221004570?via%3Dihub
Sanwal, N.; Gupta, A.; Bareen, M. A.; Sharma, N.; Sahu, J. K. (2023). “Kombucha fermentation: recent trends in process dynamics, functional bioactivities, toxicity management, and potential applications.” — Fermentação da kombucha: tendências em dinâmica de processo, bioatividades funcionais, gestão de toxicidade e aplicações: Revisão técnica ampla do estado da arte. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772753X23002423
Selvaraj, S.; Gurumurthy, K. (2023). “An overview of probiotic health booster–Kombucha tea.” — Visão geral do chá kombucha como potencial impulsionador probiótico: Síntese das alegações pró-saúde e da base microbiológica associada. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674638422001289
Wang, B.; Rutherfurd-Markwick, K.; Liu, N.; Zhang, X.-X.; Mutukumira, A. N. (2024). “Probiotic potential of acetic acid bacteria isolated from Kombucha in New Zealand in vitro.” — Potencial probiótico de bactérias acéticas isoladas de kombucha (in vitro, Nova Zelândia): Identifica cepas com características probióticas em ensaios laboratoriais. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950194624000979
Bressani, A. P. P.; Casimiro, L. K. S.; Martinez, S. J.; Dias, D. R.; Schwan, R. F. (2024). “Kombucha with yam: comprehensive biochemical, microbiological, and sensory characteristics.” — Kombucha com inhame: características bioquímicas, microbiológicas e sensoriais: Avalia formulação alternativa e seus impactos no perfil da bebida. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996924008329?via%3Dihub
Cardoso, R. R.; Neto, R. O.; dos Santos D’Almeida, C. T.; Do Nascimento, T. P.; Pressete, C. G.; Azevedo, L.; et al. (2020). “Kombuchas from green and black teas have different phenolic profile, which impacts their antioxidant capacities, antibacterial and antiproliferative activities.” — Kombuchas de chás verde e preto têm perfis fenólicos distintos e impactos em atividades antioxidantes, antibacterianas e antiproliferativas: Comparação de composições e bioatividades por tipo de chá. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996919306684?via%3Dihub
Coton, M.; Pawtowski, A.; Taminiau, B.; Burgaud, G.; Deniel, F.; Coulloumme-Labarthe, L.; et al. (2017). “Unraveling microbial ecology of industrial-scale Kombucha fermentations by metabarcoding and culture-based methods.” — Ecologia microbiana de fermentações de kombucha em escala industrial por metabarcoding e cultivo: Mapeia a diversidade de microrganismos em processos industriais. https://orbi.uliege.be/handle/2268/211534
González-Herrera, S. M.; Rutiaga-Quiñones, O. M.; Cordero-Soto, I. N.; Mares-Rodríguez, F. (2025). “Chemical composition of kombucha analogs and their influence on sensory acceptability.” — Composição química de análogos de kombucha e influência na aceitação sensorial: Examina composição e impactos no perfil sensorial de bebidas análogas. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780443132971000097
Konar, N. M.; Karaismailoglu, S.; Karaismailoglu, E. (2022). “Status and trends of personalized medicine research from 2000 to 2020: a bibliometric analysis.” — Tendências da medicina personalizada (2000–2020): análise bibliométrica: Referência metodológica sobre como mapear campos científicos por bibliometria. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03007995.2022.2052515